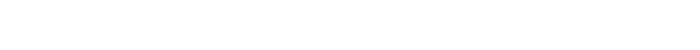À conversa com Arq.º José Neves

À conversa com Arq.º José Neves
‘Uma das poucas certezas que tenho sobre arquitectura é que só devemos destruir ou substituir aquilo que podemos fazer melhor.’
Qual é a definição de arquitectura que procura pôr em prática?
Não tenho nenhuma definição de arquitectura pronta para tirar da cartola, nem faço nenhum esforço nesse sentido. Parece-me que as tentativas para definir arquitectura não podem deixar de ser incompletas e mais ou menos vagas.
Mas sei que o que me estimula sobretudo neste trabalho é a evidência de que quando acrescentamos qualquer coisa ao mundo – chame-se-lhe o que se quiser: pré-existência, contexto, sítio – ele passa a ser uma outra coisa que integra o que lhe juntámos. Ou seja, os limites do projecto de arquitectura nunca são os limites físicos do objecto que projectamos. É por isso que, quando projecto, seja em que situação for, sinto sempre que estou a fazer uma ampliação ou uma reabilitação. Porque há sempre um conjunto muito complexo de coisas, naturais ou artificiais, que já lá estão antes e que temos que decifrar e tornar nossas para com elas lidar – eu gosto de dizer “continuar”. O trabalho dos arquitectos, para fazer sentido, só pode ser um trabalho – apetece-me dizer um combate – contra a fragmentação.
Faz viagens para ver arquitectura?
É exactamente por a experiência da arquitectura não passar apenas pelo sentido da visão, mas por todos os outros sentidos e pelo encontro – ou o confronto – entre o nosso corpo, as suas dimensões e os seus gestos, e a arquitectura, que é muito importante ir ter com ela para a experimentar.
E também porque só assim é que é possível perceber que esta “continuidade” de que falo pode ser um dos aspectos mais determinantes da arquitectura. Para dar alguns exemplos que me ocorrem neste momento: por melhor que conheçamos os projectos respectivos, nunca conseguiremos perceber o alcance do edifício seminal do Perret da Rua Franklin, sem conhecer de perto a frente uniforme dessa rua e a rotura que ele significa nela; ou o recolhimento e a distância do cemitério do Asplund, sem termos caminhado ao longo dos seus muros e dos seus bosques; ou o acerto das diferenças na configuração, no tratamento e na escala entre os edifícios laterais e o do fundo do Capitólio de Miguel Ângelo, em Roma, sem termos subido aquela escada rampeada, de preferência ao fim da tarde.
Hoje, em Portugal, os arquitectos têm de fazer o mesmo trabalho, em metade do tempo e com metade dos orçamentos. Esta situação exige uma nova abordagem?
O trabalho da arquitectura, por causa dos seus aspectos materiais e concretos e pela sua ligação directa com a sociedade, faz-se sempre com os possíveis, determinados por coisas tão diferentes como a física, a construção, os materiais, o clima, o orçamento, o uso, etc. Tomar esses possíveis, não como empecilhos do trabalho mas como dados e, na melhor das hipóteses, como estímulos, é uma das coisas mais importantes para nós, arquitectos. Mas estes possíveis tornaram-se muito mais apertados do que eram quando comecei a trabalhar. Os orçamentos nem sempre são hoje metade do que eram – até porque o custo dos edifícios cresceu – os honorários é que são hoje menos de metade do que há meia dúzia de anos. A falta de tempo para trabalhar é que é verdadeiramente terrível. O projecto de uma coisa é, por natureza, um processo, em muitos aspectos, muito distante da concretização final dessa coisa, e é por isso um processo difícil de tentativa e erro que requer muito tempo. Vamos avançando com hipóteses, perante uma realidade que nunca é simples, que precisam de tempo para ser ponderadas e testadas, para que possam ser as mais acertadas possíveis. Reduzindo os prazos dos projectos (para não falar dos das obras!), a partir de certo ponto, só permite fazer disparates ou, quando muito, tentar repetir receitas, o que também não costuma dar bom resultado. Com os cientistas ou com os poetas não deve ser muito diferente.
Disse numa entrevista que: “a escola Francisco de Arruda faz parte da memória colectiva de Lisboa, e por isso fizemos tudo para salvar os edifícios na sua integridade original”. Adaptar os espaços aos novos tempos sem os descaracterizar pode ser mais difícil do que fazer uma obra de raiz?
Uma das poucas certezas que tenho sobre o trabalho da arquitectura é que só devemos destruir ou substituir aquilo que podemos fazer melhor. A inovação, como princípio sistemático e absoluto, sempre me pareceu um dispositivo de barbárie, também no que toca ao mundo construído. A memória colectiva a que se refere tem muito a ver com a qualidade da escola que encontrámos, projectada nos anos 50, hoje infelizmente rara, no seu pragmatismo formal e construtivo, presente tanto nos edifícios como na implantação deles sobre a encosta da Tapada. Encontrámos uma obra que fica a meio caminho, como gostava de dizer Daciano Costa, “entre a vassoura e a catedral”, e perfeitamente adequada aos dias de hoje. Portanto, fizemos tudo ao nosso alcance para salvar – tornar viva – essa memória, o que é de facto cada vez mais difícil perante, por exemplo, a panóplia de instalações a que os regulamentos actuais obrigam e que muitas vezes são completamente inadequados à nossa realidade. Deve dizer-se, por exemplo, que grande parte das instalações mecânicas de climatização se encontra neste momento sem funcionar porque os utentes não os consideram necessários ou não têm dinheiro para pagar o seu consumo e a sua manutenção.
“Crise” não é uma palavra que se possa aplicar ao seu momento actual, visto que venceu o prémio Secil com o projecto dessa mesma escola. É inevitável perguntar: que significado tem para si esse reconhecimento?
A “crise” a que penso que se refere é uma crise do colectivo de que cada um de nós faz parte, e que está muito para lá de ser só uma crise económica, ao contrário do que nos querem fazer acreditar. Parece-me errado e muito perigoso pensar nesta crise como um somatório de crises individuais que se podem ir resolvendo uma a uma, dependendo da maior ou menor sorte de cada um ou do seu “empreendedorismo”, como se diz agora. Antes de sermos arquitectos, ou outra coisa qualquer, somos cidadãos, não é? O prémio Secil é um prémio maravilhoso, que me dá imenso prazer, orgulho e alento para continuar a trabalhar e tentar fazê-lo cada vez melhor, mas, por muito importante que seja, não pode acabar, infelizmente, com crise nenhuma.
Esta entrevista é parte integrante da Revista Artes & Letras #45, de Setembro de 2013
Notícias & Entrevistas
À conversa com Arq.º Gonçalo Byrne
‘Eu comparo as obras, um pouco, com o que acontece com os filhos: a partir de certa altura eles têm a sua autonomia, a sua vida...’ Ler mais
À conversa com Arq.º Tiago Silva Dias
‘As áreas de actuação da profissão expandiram-se. A minha geração só queria projectar. Hoje há arquitectos a actuar noutras vertentes, o que é positivo.’ Ler mais
À conversa com Eng.º Rui Coutinho
‘A base das nossas decisões de conservação e manutenção reside na actividade de inspecção e monitorização que perspectiva a identificação do momento mais vantajoso para intervir nas obras de arte’ Ler mais